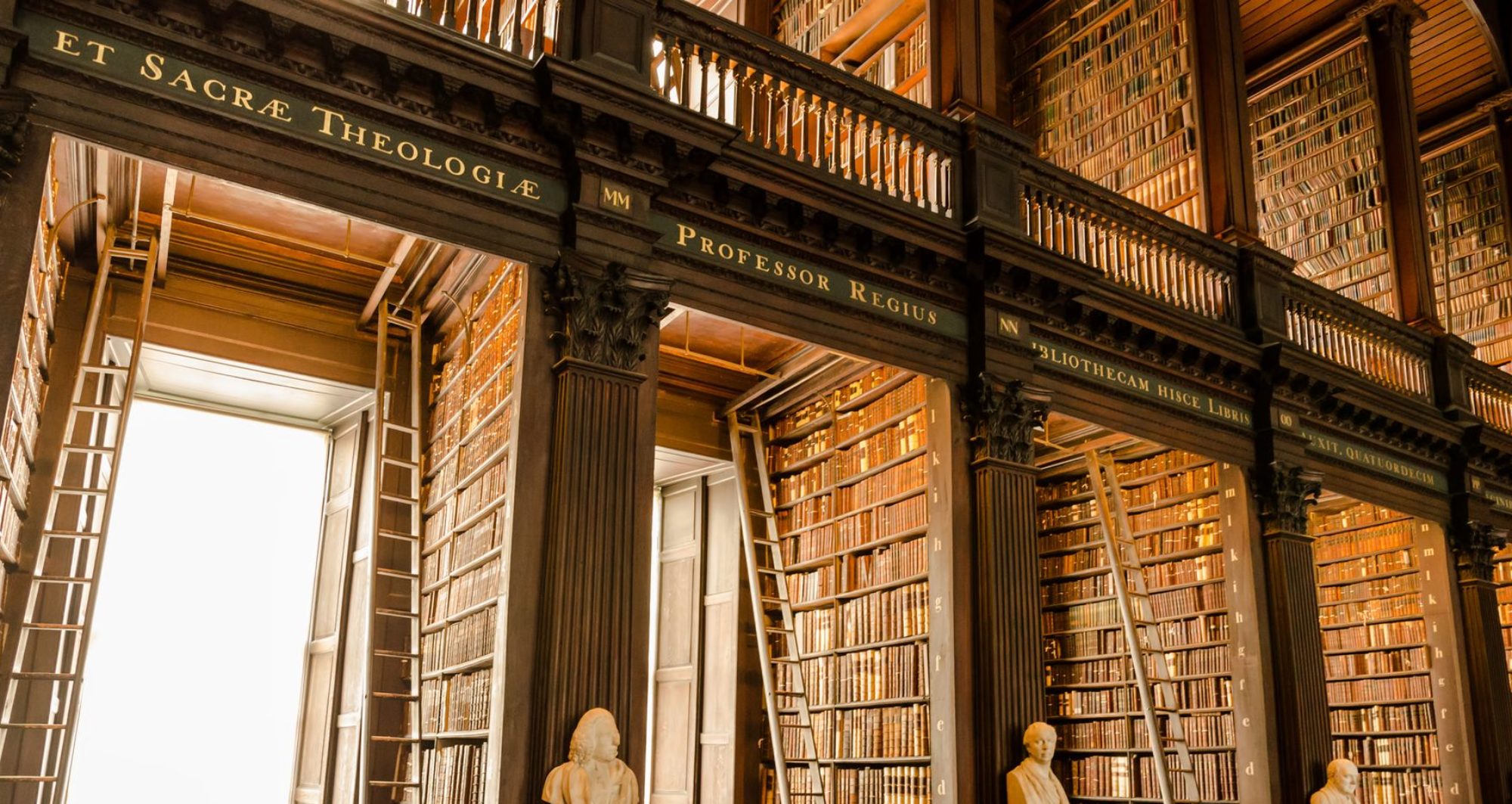Os padres na política!

O Verão está aí e com ele o habitual calor. Este ano acresce ainda o aquecimento normal do tempo de eleições.
É neste contexto de caloricidade que eu faço, agora em público, uma reflexão sobre algo que se tem falado e que me preocupa: os padres na política!
Quando algum sacerdote se candidata a um cargo político, normalmente nas autarquias, há sempre quem se pronuncie contra e quem se pronuncie a favor. É normal, cada um pensa como quer.
Costumo até ouvir com frequência que acham normal um padre candidatar-se, pois é um cidadão normal, como os outros.
Aqui poderia fazer-se uma reflexão teológico-pastoral sobre o facto, a sua pertinência e até a sua conveniência. Mas como referi acima, estamos num tempo difícil para a reflexão, os ânimos começam a estar aquecidos e a frieza necessária à reflexão pode faltar.
Mas também neste caso se acha muito e se conhece pouco
Segundo a Lei canónica, aos clérigos compete promover e fomentar sempre e o mais possível a paz e a concórdia entre os homens, baseada na justiça. E acrescenta ainda, o cânone 287, que os clérigos não tomem parte activa em partidos políticos [e não refere se como militantes ou independentes] ou na direcção de associações sindicais.
Mas se virmos noutro local, no cânone 317, diz expressamente que nas associações públicas de fiéis directamente orientadas para o exercício do apostolado, não sejam moderadores os que desempenham cargos directivos em partidos políticos. Se este princípio se aplica para os leigos em geral, como será para o Sacerdote, que compete ser o pastor que a todos congrega, em nome de Jesus Cristo?
Concedo que o Direito canónico não é um texto legislativo que esteja muito acessível, quem nem todos tenham a sensibilidade necessária para o procura conhecer.
E a Lei civil?
Nessa, o caso ainda é mais claro!
Diz a Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, no seu artigo 7º, sobre as inelegibilidades especiais, que não são elegíveis para os órgãos das autarquias locais dos círculos eleitorais onde exercem funções ou jurisdição, entre outros, os ministros de qualquer religião ou culto (Art. 7º 1 c).
Perante o acima exposto: qual é a dúvida?
A Catequese é um acto humano
Deus fala como um amigo
Podem-se distinguir três níveis de diálogo
O catequista é um amigo de Deus
Os amigos vivem na alegria
A Igreja é Comunhão – IV
A Igreja procede do Pai pelo Filho no Espírito Santo, sendo aquela obra das missões divinas; “é ela o lugar do encontro entre o céu e a terra, em que a história trinitária, por livre iniciativa de amor, passa para a história dos homens e esta é assumida e transformada no movimento da vida divina”(Bruno Forte).
Mas a Igreja, que é comunhão, só se compreende a partir de factos concretos e visíveis. Para compreender a profundidade teológica da eclesiologia da Igreja comunhão deve-se partir do facto central da vida da Igreja visível, a Eucaristia da Igreja local presidida pelo bispo, rodeada do presbitério, dos diáconos e dos fiéis, não bastando uma simples inscrição ou o pagamento de cotas para que se pertença à Igreja, se faça comunhão. Não há Igreja sem assembleia eucarística. Por isso, a não frequência eucarística é sinal de quebra ou enfraquecimento da comunhão eclesial. A eucaristia, como acto de acção de graças, é a presentificação simbólica sacramental de todo o mistério da salvação. Enquanto communio eucarística, a Igreja é não só imagem da communio trinitária, mas também a sua actualização. Ela não é apenas sinal e meio de salvação, mas também fruto da salvação. Enquanto communio eucarística, é a resposta sobreexcedente à questão humana originária da comunhão.
Esta questão é mediada por símbolos, e são eles que nos reportam para o mistério. A vida religiosa é um sistema de símbolos que actualizam a presença de experiências transcendentes, extraordinárias ou desconcertantes. Qualquer símbolo, seja ou não religioso, tem um atractivo em e por si mesmo. Sem dúvida, ainda que o símbolo possa atrair e até seduzir, não pode obrigar a comunidade a objectivá-lo. Neste contexto, a qualidade da crença — da fé — deve-se considerar como processual. São muitas as contingências que podem afectar a valorização dos símbolos religiosos, entre elas o facto de que, na sociedade contemporânea, as comunidades correntes — intersubjectivas — raramente coincidem com as expectativas da Igreja oficial (problemas que se dão igualmente com o Estado). Existe um divórcio quase permanente entre a ‘criação de símbolos’ da Igreja oficial e o modo como esses símbolos são vividos a nível local e paroquial. Como consequência, a Igreja deve fazer-se a si mesma de muitas formas, cada uma delas representa uma acomodação do símbolo aos destinatários.
O fiéis celebram a eucaristia e fazem esta experiência de comunhão nas suas Igrejas particulares, pois a igreja-comunhão vive-se na totalidade do seu mistério nas Igrejas locais. É aqui que Cristo nos convoca, reúne na comunhão e envia em missão. É aqui que a comunhão se vive entre pessoas que a própria existência faz próximas e solidárias na realização do culto; o símbolo toma um significado social.
A Igreja presente no mundo “é um sinal visível do homem originário reprimido e da libertação da sua capacidade de mistério e de símbolo, que é a condição de possibilidade de culto. A profundidade esquecida do ser humano não é egóide e fechada sobre si mesma mas relacional e foi sobre as relações originárias do homem à natureza, ao seu semelhante e a Deus que incidiu a acção perturbadora da razão com sua vontade de poder”(Miguel Baptista Pereira), dando origem ao estado de crise que hoje vivemos e ao qual a Igreja Comunhão pode ser uma saída viável para esta situação, onde a “Igreja, como morada de transcendência e redil materno do rebanho, deixou de ter o sentido profundo de outrora… Cada qual salva a sua alma na solidão. Como forças colectivas capazes de semear o mundo de catedrais ou de cruzadas, as religiões estão mortas”(Miguel Torga).
Hoje, a crise de pertença eclesial e a recomposição caleidoscópica do religioso que este processo arrasta consigo inscrevem-se na evolução geral das sociedades da Terceira Vaga(Cf Alvin Toffler), caracterizadas pela mobilidade, particularmente pelas mudanças determinadas pelas orientações sócio-económicas, bem como pela atenuação do controle social e a valorização da capacidade de escolha pessoal.
A nova fase que a humanidade atravessa foi já abordada pelo Concílio Ecuménico Vaticano II ao dizer:
“A humanidade vive hoje uma nova fase da sua história, na qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a terra. Provocadas pelo inteligência e actividade criadora do homem, elas reincidem sobre o mesmo homem, sobre os seus juízos e desejos individuais e colectivos, sobre os seus modos de pensar e agir, tanto em relação às coisas como às pessoas. De tal modo que podemos já falar de uma verdadeira transformação social e cultural, que se reflecte também na vida religiosa”(GS 4).
Realçando os pontos fundamentais, podemos referir a novidade da situação actual, que acarreta transformações rápidas e profundas em todo o mundo. A origem destas transformações está na actividade criadora humana, na sua capacidade de produzir novos meios e nas consequências que isso acarreta para o próprio sujeito da mudança. Este processo cria uma transformação social e cultural tais que geram novas culturas e modos diferentes de constituir sociedade.
Firefox 3.5!!
Conectivismo: possível na Igreja Comunhão!?!
Uma das teorias emergentes da pedagogia digital, chama-se conectivismo.
Encontrei-a há dias, e à medida que vou aprofundado o tema, vou ficando convencido de que será um bom contributo para a catequese, percebida e realizada numa igreja que é comunhã.
Estarei certo?
Vou dando notícias.
Chegou o Verão!
Está é uma proposta académica de uma actividade de Verão para a catequese.
Pode ser vista na íntegra aqui.
Chegou o verão! Vamos à Festa.
A catequese tem o objectivo de iniciar, progressiva e sistematicamente, à fé cristã. Com o início das férias de Verão, a que está associada uma grande pausa nos encontros de catequese, urge propor actividades para que o grupo se possa encontrar e, o que seria muito salutar, realizar actividades lúdicas.
Esta actividade destina-se a catequizandos e catequistas, que podem optar por fazer a recolha individualmente ou por grupo.
O objectivo é promover que se faça uma leitura crente das festas populares, descobrindo-lhe valores e manifestações cristãs, bem como influência pagã nas manifestações religiosas. Vendo que o Homem que reza e celebra é o mesmo que festeja e realiza arraiais, e nisso não há nada de mal.
Se quiseres, podes ler um autor interessante: Mircea Eliade, nomeadamente a sua obra O Sagrado e o Profano.
Pode recorrer-se a câmaras de vídeo, telemóvel, máquina fotográfica ou outro sistema qualquer, e recolher as imagens da realização sobre que querem reflectir.
Depois, alojam essa imagem no youtube ou outro no género, e ‘embebem-no’ na página wiki criada para o efeito, onde colocam também as vossas reflexões e descrição das descobertas realizadas:
– Repara nas Missas das festas, se há alguma tradição mais pitoresca e o ‘porquê’ de ser assim;
– Olha para as Procissões, para o modo como são aorganizadas, as representações dos figurados, as Confrarias presentes que são reflexo das grandes devoçõpes populares. No fundo as verdades que fé que querem afirmar e expressar, à mistura com costumes e presenças pagãs.
– Por fim o arraial. Repara nas imagens que são invocadas, as letras das músicas cantadas e os costumes aí associados. Sabes, dantes era nestes arraiais que se ‘pediam as moças em namoro’.
No final procura responder à pergunta: A festa pode ser uma boa oportunidade para perceber a fé popular?
Para poder editar a página wiki, é preciso mandar um mail a solicitar.
Criaremos, na wiki, uma página por cada participante, individual ou grupo.
No final do Verão realizaremos um vídeo em conjunto, sintetizando aquilo que fomos descobrindo ao longo do Verão.
Então, vamos à festa?
Não percebo!
Um dossier imperdível do P.e Rui Alberto, na revista CATEQUISTAS:
Pode ler aqui.