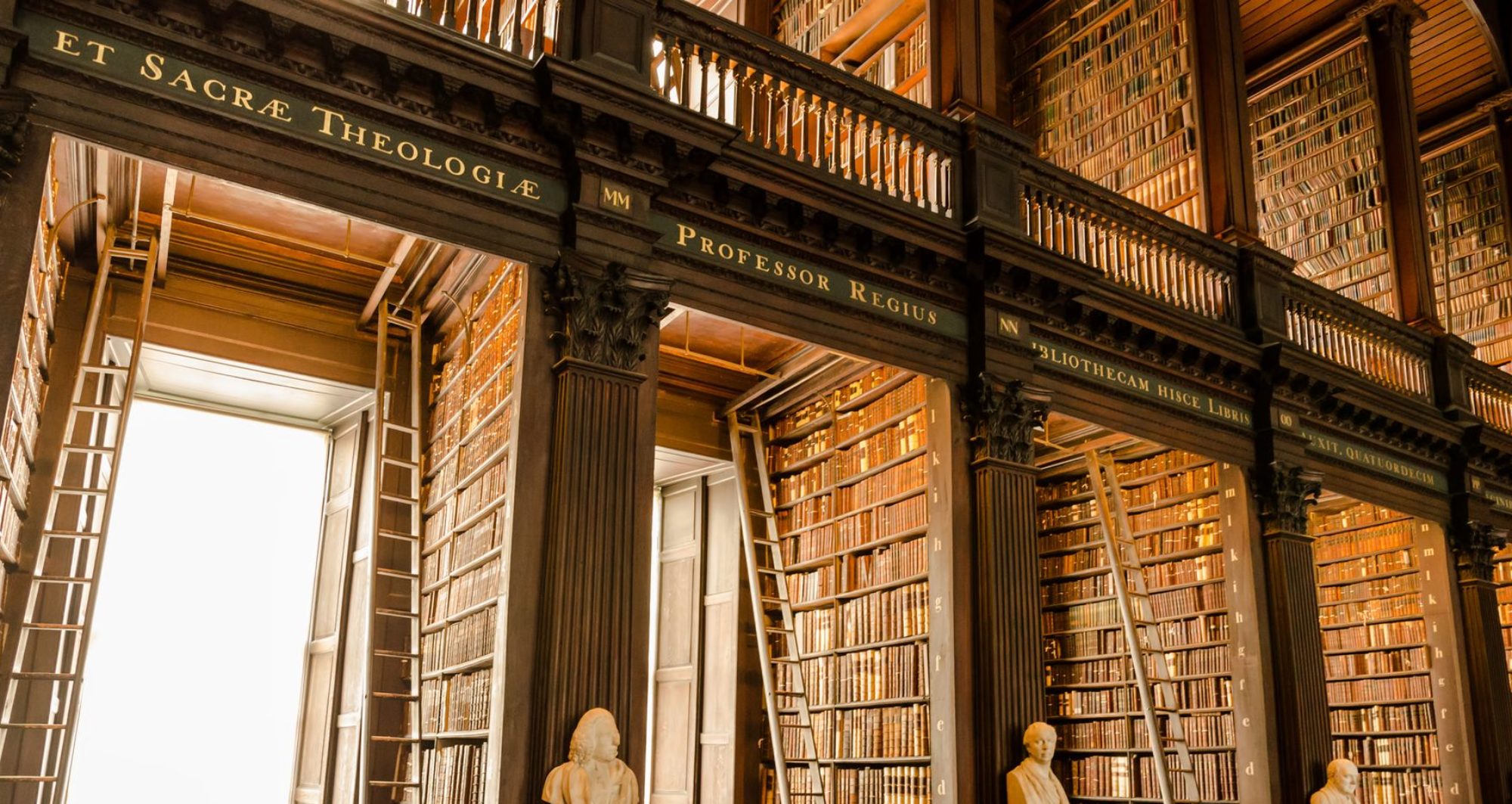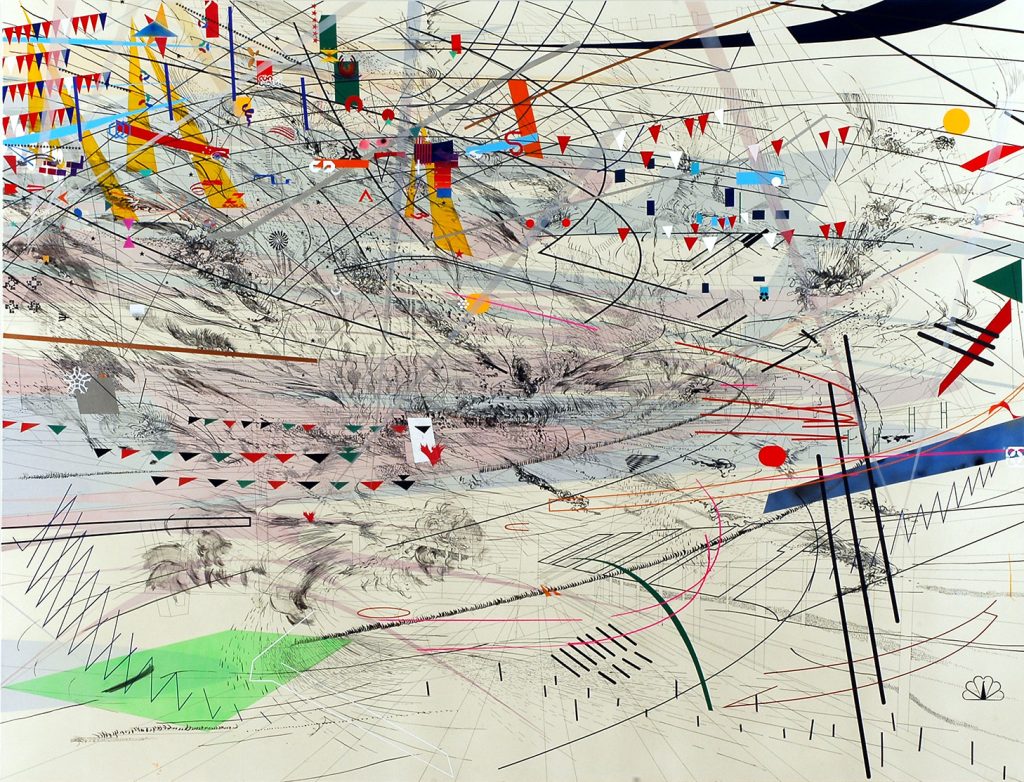- Luis M. Figueiredo Rodrigues
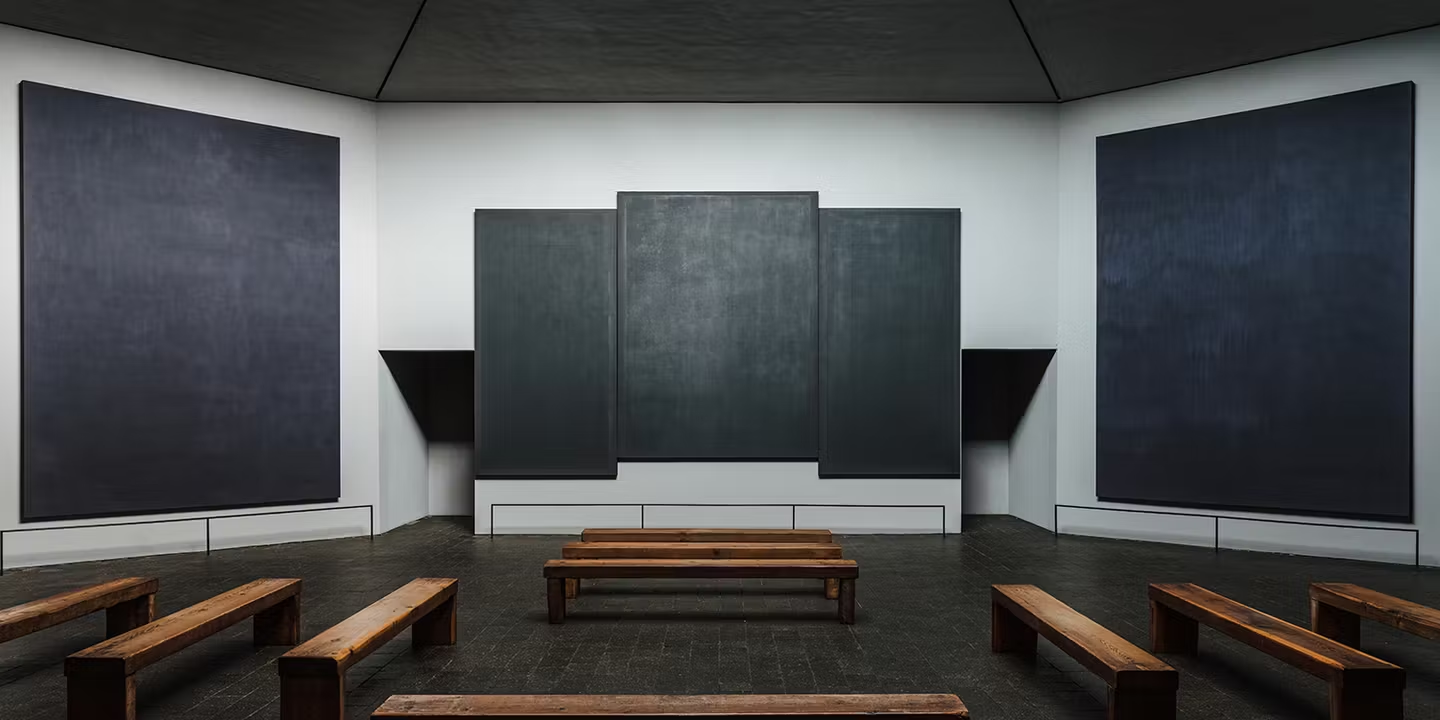
1. Introdução
A proximidade do 1700.º aniversário do Concílio de Niceia, primeiro concílio ecuménico da história do cristianismo, oferece uma ocasião teologicamente qualificada e pastoralmente oportuna para uma renovada reflexão sobre a identidade cristã e sobre a busca da unidade visível entre os discípulos de Cristo. Neste horizonte, a carta apostólica In Unitate Fidei apresenta-se como texto de referência, ao articular um apelo sistemático à unidade dos cristãos ancorado na profissão de fé nicena, entendida como património comum, ainda que ferido, de todos os batizados.
Vamos, aqui, analisar a formulação da doutrina cristológica do Concílio de Niceia e avaliar as suas implicações duradouras para o movimento ecuménico contemporâneo, à luz dos argumentos desenvolvidos em In Unitate Fidei, do Papa Leão XIV. Pretende-se evidenciar que a fé nicena não constitui uma peça museológica de um passado distante, mas permanece como fundamento vivo, normativo e insubstituível para qualquer itinerário sério de reconciliação entre os cristãos.
Neste sentido, proceder-se-á, em primeiro lugar, à caracterização do crisol histórico e teológico que conduziu à convocação do Concílio; em seguida, analisar-se-ão as suas definições centrais, nas quais se forja a identidade da fé cristã em torno da pessoa de Jesus Cristo; por fim, explicitar-se-á a relevância perene de Niceia como alicerce para o diálogo ecuménico e para a procura de uma unidade reconciliada no século XXI, em consonância com a perspetiva proposta em In Unitate Fidei.
2. O crisol histórico e teológico de Niceia
A compreensão adequada do alcance das decisões de Niceia requer a reconstituição do seu horizonte histórico. As fórmulas dogmáticas do concílio não emergem de um espaço neutro, nem são o produto abstrato de uma especulação desligada da vida da Igreja, mas configuram uma resposta necessária a crises teológicas e tensões políticas que ameaçavam simultaneamente a comunhão eclesial e a estabilidade do Império.
2.1 A Igreja pós-perseguição: Novos desafios internos
O início do século IV marca uma viragem decisiva. Com o Édito de Milão (313), promulgado por Constantino e Licínio, a Igreja passa da condição de comunidade perseguida à de realidade socialmente tolerada e, progressivamente, favorecida. A cessação das perseguições não significou, porém, uma pacificação automática da vida eclesial. Desaparecida a pressão unificadora da ameaça externa, vieram à superfície debates doutrinais anteriormente latentes, que se agudizaram e começaram a fragmentar a unidade de fé.
Neste novo contexto, a Igreja viu-se confrontada com a necessidade de clarificar a sua própria identidade teológica. A paz constantiniana libertou energias para a reflexão, mas também expôs fissuras internas. Questões cristológicas e trinitárias, até então formuladas de modo mais implícito na liturgia e na pregação, tornaram-se objeto de controverso confronto e revelaram a urgência de uma expressão mais rigorosa da fé recebida.
2.2. A controvérsia Ariana: Uma ameaça ao núcleo da Fé cristã
Entre as crises emergentes, a controvérsia ariana assume um lugar absolutamente central. Ário, presbítero de Alexandria, propôs uma doutrina que, sob a aparência de salvaguardar a transcendência divina, minava o coração da fé cristã. Segundo a sua tese, o Verbo não seria verdadeiramente Deus, mas uma espécie de intermediário sublime entre o Criador e as criaturas. Não sendo eterno como o Pai, teria “havido um tempo em que o Filho não era”.
Esta posição afetava de raiz a estrutura da fé cristã. No plano trinitário, introduzia uma hierarquia de ser no interior de Deus, comprometendo a unidade divina. No plano soteriológico, tornava impossível afirmar que, em Jesus Cristo, é o próprio Deus quem vem ao encontro da humanidade, assumindo a condição humana para a salvar. O bispo Alexandre de Alexandria, consciente da gravidade da questão, convocou um sínodo local que condenou a doutrina de Ário.
Todavia, a controvérsia rapidamente ultrapassou os limites da Igreja alexandrina e alastrou ao conjunto da cristandade, envolvendo bispos, teólogos e comunidades inteiras. A disputa deixou de ser um conflito circunscrito para se tornar numa das mais profundas crises da história da Igreja, com repercussões doutrinais, disciplinares e políticas de grande amplitude.
2.3 A intervenção imperial: A busca de constantino pela unidade
Percebendo que a querela teológica entre bispos ameaçava a paz religiosa e, consequentemente, a coesão do Império, Constantino decidiu intervir. A sua preocupação não era apenas doutrinal, mas também política: as divisões eclesiais repercutiam-se no corpo social e debilitavam o projeto de unidade imperial.
Nesse contexto, o imperador convocou um concílio “ecuménico” — isto é, de alcance universal — na cidade de Niceia, em 325, convidando todos os bispos a reunirem-se para discernir e formular uma profissão de fé comum. Tradicionalmente, menciona-se a presença de cerca de “318 Padres”, vindos de diversas regiões. A missão primordial deste sínodo consistia em pôr termo à controvérsia ariana e restabelecer a unidade da Igreja em torno de uma mesma confissão cristológica.
A crise ariana funcionou, assim, como catalisador de um trabalho teológico de enorme densidade. Foi sob a pressão desta crise que a Igreja se viu obrigada a explicitar de forma inédita aquilo que sempre acreditara e celebrara: a verdadeira identidade de Jesus Cristo, Filho de Deus.
3. A Definição Cristológica do Concílio de Niceia
As decisões teológicas de Niceia assumem um valor estruturante para toda a história da fé cristã, na medida em que incidem no seu núcleo mais sensível: a identidade de Jesus Cristo enquanto Filho de Deus. Para salvaguardar a verdade da revelação bíblica face à leitura ariana, os Padres conciliares, radicados na Tradição apostólica, elaboraram um Credo que se tornaria referência normativa para a ortodoxia cristã ao longo dos séculos.
3.1 A afirmação da Filiação divina: “Deus de Deus, Luz da Luz”
Para refutar a tese de que o Filho seria uma criatura excelsa, o Símbolo de Niceia recorre a fórmulas litúrgicas e bíblicas densamente carregadas de conteúdo teológico. Ao confessar Jesus Cristo como “Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro”, a Igreja afirma simultaneamente a continuidade com o monoteísmo bíblico e a novidade inaudita da Encarnação.
Esta sequência de expressões, de grande beleza poética e precisão dogmática, visa dizer que o Filho participa da própria vida divina do Pai, sem diminuição nem subordinação ontológica. Assim como a luz procede da luz sem quebrar a unidade da fonte luminosa, também o Filho procede do Pai permanecendo plenamente Deus. Não se trata, pois, de uma proximidade meramente funcional ou moral, mas de uma verdadeira comunhão de ser.
3.2 A doutrina do Homoousios: Uma chave filosófica ao serviço da verdade bíblica
O ponto culminante e, ao mesmo tempo, mais debatido da formulação nicena é a introdução do termo grego homoousios (“da mesma substância”). Apesar de não ser um vocábulo bíblico, foi assumido como indispensável para exprimir, com clareza filosófica, a verdade bíblica da divindade do Filho. O seu emprego visava bloquear todas as ambiguidades terminológicas que o arianismo explorava.
Na fórmula conciliar, confessa-se que o Filho é “gerado, não criado, consubstancial (homoousios) ao Pai”. Ao afirmar que o Filho é “da substância (ousia) do Pai” e “da mesma substância do Pai”, Niceia nega de forma inequívoca qualquer ideia de inferioridade ontológica. O Filho não é o primeiro entre os seres criados, mas partilha a mesma essência divina. Deste modo, o concílio canoniza uma linguagem conceptual que, sem substituir a Escritura, serve a sua reta inteligência.
3.3 Implicações soteriológicas: A lógica da divinização
A precisão dogmática de Niceia nasce de uma exigência de ordem soteriológica. A questão “quem é Cristo?” está intrinsecamente ligada à questão “como somos salvos?”. A tradição teológica, de modo particular em Santo Atanásio, exprimiu esta ligação através da célebre afirmação segundo a qual o Filho de Deus “fez-se homem para que o homem fosse divinizado”.
A lógica subjacente é clara: só se Cristo é verdadeiramente Deus pode introduzir a humanidade na comunhão com Deus. Se fosse apenas uma criatura, ainda que sublime, permaneceria do lado do criado e não poderia comunicar a vida divina. A doutrina da divinização — participação na vida de Deus — exige, por conseguinte, que o Salvador seja consubstancial ao Pai. A cristologia nicena revela-se, assim, inseparável de uma determinada compreensão da salvação: a fidelidade à verdade sobre Cristo é condição de possibilidade da esperança cristã.
Não obstante a clareza das fórmulas adotadas, a receção do Credo de Niceia foi longa e laboriosa, atravessando décadas de contestação e de aprofundamento teológico.
4. O legado e a receção da fé Nicena
As decisões de um concílio ecuménico não se esgotam no momento da sua conclusão formal. No caso de Niceia, o período pós-conciliar foi particularmente turbulento. O termo homoousios tornou-se foco de debates acesos, sendo suspeito para uns por parecer demasiado “sabelliano” e insuficiente para outros para travar todas as formas de subordinação do Filho.
4.1 A luta pós-conciliar e a defesa da ortodoxia
Nesta fase, emergem figuras de grande envergadura espiritual e intelectual que se tornam protagonistas da defesa da fé nicena. Santo Atanásio de Alexandria, frequentemente designado como a “rocha de Niceia”, permanece firme na confissão da divindade do Filho, mesmo ao preço de sucessivos exílios. A sua resistência, teologicamente argumentada e pastoralmente enraizada, contribui de modo decisivo para a clarificação e consolidação da doutrina conciliar.
No Oriente, os chamados Padres Capadócios — Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno — assumem um papel de primeira linha. Através de uma reflexão subtil sobre as noções de “ousia” (essência) e “hipóstase” (pessoa), mostram que a unidade de Deus e a confissão trinitária não se excluem, antes se implicam mutuamente. A sua teologia constitui um desenvolvimento orgânico da fé nicena e prepara o caminho para Constantinopla.
No Ocidente, figuras como Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona asseguram a receção do núcleo niceno na tradição latina. As suas obras contribuem para enraizar, no pensamento teológico e na espiritualidade eclesial, a confissão de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho consubstancial ao Pai.
4.2 De Niceia a Constantinopla: A maturação do Credo
O percurso iniciado em 325 encontra a sua maturação no Primeiro Concílio de Constantinopla (381). Este concílio confirma a fé de Niceia e aprofunda-a, sobretudo no que respeita à divindade do Espírito Santo, completando a confissão trinitária. O resultado é o Credo Niceno-Constantinopolitano, que, na sua forma textual, se tornará a profissão de fé recitada até hoje na liturgia da maioria das Igrejas.
Deste modo, aquilo que começou como resposta a uma crise circunscrita assume a forma de um símbolo de fé com validade universal e duradoura, no qual grande parte do cristianismo reconhece a expressão normativa da fé apostólica. É precisamente este carácter “católico” — universal — do Credo que o torna um recurso de primeira ordem para o ecumenismo contemporâneo.
5. O Credo niceno como fundamento para o ecumenismo contemporâneo
Longe de reduzir Niceia a um capítulo encerrado da história, In Unitate Fidei propõe a releitura da sua herança como “recurso vital” para o cristianismo do século XXI. A Carta Apostólica insiste no “altíssimo valor ecuménico” do Credo Niceno-Constantinopolitano, considerando-o não apenas como memória comum, mas como critério de discernimento para o caminho atual de unidade.
5.1 Um património comum numa Catolicidade dividida
Apesar das divisões históricas — entre Oriente e Ocidente, e, mais tarde, entre católicos e comunidades oriundas da Reforma —, o Credo niceno-constantinopolitano permanece reconhecido, na sua substância, pela vasta maioria das tradições cristãs. In Unitate Fidei retoma, neste ponto, a perspetiva de São João Paulo II em Ut unum sint, ao identificar neste Credo um verdadeiro “património comum dos cristãos”.
Fundado no único batismo, o reconhecimento desta profissão de fé partilhada torna possível um mútuo reconhecimento, ainda que incompleto, entre Igrejas e Comunidades eclesiais. Sobre esta base, o diálogo ecuménico deixa de ser apenas gestão de divergências para se afirmar como descoberta renovada de uma comunhão já real, ainda que imperfeita, enraizada na mesma confissão de Jesus Cristo, Filho de Deus.
5.2 Niceia como modelo para a unidade na diversidade
A Carta Apostólica sublinha que “o Credo de Niceia pode ser a base e o critério de referência” do caminho ecuménico. A confissão trinitária que ele contém oferece não só um conteúdo comum, mas também um modelo formal para pensar a unidade na diversidade. Ao falar de “Unidade na Trindade e Trindade na Unidade”, propõe-se uma visão de comunhão em que nem a unidade se torna uniformidade opressiva, nem a multiplicidade se degrada em fragmentação.
In Unitate Fidei formula esta intuição de modo particularmente feliz ao afirmar que “a unidade sem multiplicidade é tirania, a multiplicidade sem unidade é desintegração”. A vida trinitária aparece, assim, como paradigma para uma unidade eclesial que respeita e integra a legítima diversidade de tradições, ritos, formas de espiritualidade e acentos teológicos. O ecumenismo é chamado, por conseguinte, a inspirar-se na lógica da comunhão trinitária: uma unidade que acolhe a alteridade como riqueza e não como ameaça.
5.3 Desafios e esperança para o futuro do Diálogo Ecuménico
A orientação proposta não consiste num retorno puramente arqueológico a uma suposta “idade de ouro” pré-cismática, nem num “mínimo denominador comum” doutrinal que esvaziaria a fé do seu conteúdo. In Unitate Fidei fala antes de um “caminho de diálogo, de troca de dons e patrimónios espirituais”, no qual cada tradição é chamada a oferecer aos outros o melhor da sua própria herança e a receber, com humildade, o que o Espírito realizou nos outros.
Este processo exige tempo, paciência, purificação da memória e verdadeira conversão. A unidade visível não será fruto de compromissos diplomáticos superficiais, mas de uma redescoberta partilhada da fonte comum, que é a confissão de Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Ao mesmo tempo, a Carta lembra que a credibilidade da missão da Igreja no mundo depende, em grande parte, do testemunho de unidade entre os cristãos. Só uma comunidade reconciliada pode ser sinal e instrumento de paz num mundo marcado por conflitos, guerras e fragmentação.
6. Conclusão
O Concílio de Niceia permanece como um marco decisivo na história da fé cristã, ao definir de modo autoritativo a identidade divina de Jesus Cristo e ao estabelecer o quadro teológico no qual se move, até hoje, a reflexão cristológica e trinitária. A introdução do homoousios não representou uma cedência à filosofia, mas a assunção disciplinada de uma linguagem conceptual ao serviço da verdade da Escritura e da soteriologia cristã: somente se o Filho é verdadeiramente Deus pode conduzir a humanidade à comunhão com Deus.
A carta apostólica In Unitate Fidei convida a reler este legado não como vestígio de um conflito ultrapassado, mas como pedra angular para o caminho ecuménico contemporâneo. A fé nicena, longe de empobrecer a diversidade cristã, oferece-lhe um centro de gravidade comum e um critério de discernimento. Nela se concentra a confissão fundamental que torna possível reconhecer, para além das divisões, que todos os batizados são agregados à mesma fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai.
Assim, a memória de Niceia não conduz a um minimalismo doutrinal, mas a uma coragem renovada de regressar à fonte. É a partir da confissão comum de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que os cristãos são chamados a superar as divisões, deixando que a verdade recebida, e não interesses particulares, seja a medida do caminho. Nesta perspetiva, o legado niceno revela-se não apenas como herança a guardar, mas como tarefa a cumprir: tornar, hoje, visível na história a unidade de fé que o Credo proclama.